Fui indicada pra responder esse meme, originado lá no canal InesBooks, pela Anna, e ele não poderia ter aparecido em hora melhor, já que estava sendo cobrada por algumas blogueiras que eu adoro pra voltar a aparecer com alguns posts literários por aqui. Ainda não são as resenhas, mas estamos no caminho! Certo? São 15 perguntinhas muito legais sobre livros que, embora não tenham sido fáceis de responder, foram muito divertidas.
![]() 1) Vox Populi (um livro para recomendar a toda gente)
1) Vox Populi (um livro para recomendar a toda gente)
Recomendar um livro a toda genteé uma tarefa extremamente difícil porque é impossível agradar todo mundo. Mesmo assim, o livro que eu sinto vontade de recomendar pra qualquer um – independente de quais venham a ser as reações a ele – é O Grande Gatsby. Gatsby é uma obra que eu demorei uns quatro dias pra ler um capítulo, e uns três dias pra ler todo o resto (não que seja particularmente longo). Terminei numa madrugada de domingo para segunda porque precisava devolver pra biblioteca, e ler no meio da madrugada silenciosa os últimos parágrafos incríveis que Fitzgerald deu a essa narrativa foi quase um momento de iluminação. Naquele momento, Nick Carraway não falava mais só de Gatsby, ou só dele, ou só daqueles personagens, mas de todos nós, e gostaria que todo mundo pudesse passar pela mesma conexão que senti durante aqueles minutos, porque é uma das coisas mais incríveis que a arte pode fazer.
![]() 2) Maldito plágio (o livro que gostaríamos de ter escrito)
2) Maldito plágio (o livro que gostaríamos de ter escrito)
Eu sou uma grande defensora da literatura infanto-juvenil, do young-adult, do chick-lit e do que quer que seja que as pessoas gostam de ler. Não porque todos os livros sejam bons, mas porque todos podem ser bons, independente do gênero literário em que acabem caindo. Por isso, queria ter sido eu a autora de um dos YAs mais incríveis que eu já li e que está aí pra provar que pode ser tão bonito, tão rico e tão bem construído quanto um título que você encontra nas outras seções de literatura das livrarias. The Scorpio Races, da Maggie Stiefvater, é, segundo a própria autora, o livro que ela sempre quis escrever, mas que nunca tinha conseguido antes, apesar das inúmeras tentativas. Mas conseguiu, pra nossa sorte. É um livro sobre cavalos carnívoros e potencialmente assassinos que vêm do mar? É. E se você duvida que uma história dessas possa ser bela, eu te entendo. Mas eu peço que você supere a descrença, porque vai valer a pena.
![]() 3) Não vale a pena abater árvores por causa disso
3) Não vale a pena abater árvores por causa disso
Hoje em dia sou um pouco mais cuidadosa na hora de escolher os títulos que eu leio, e faz tempo que não detesto um livro em absolutamente tudo o que ele diz ou contém. Mas o livro mais decepcionante dos últimos tempos tem que ser A Lua de Mel, da minha querida rainha do chick-lit Sophie Kinsella. E eu digo isso com tristeza no coração, porque eu adoro a Sophie. Na narração dos momentos hilários da história, eu percebia que só podia ser dela. Mas o resto? Só... não. Você tem duas protagonistas e as motivações das duas ao longo de um livro inteiro (com quase 500 páginas) são: 1) conseguir fazer sexo e consumar o casamento com um cara que namorava e reencontrou dois dias atrás, no caso de uma; 2) impedir que a irmã faça isso, no caso da segunda. E isso é o livro inteirinho (com alguns poucos momentos com algum tipo de sentimento por atrás), vivido e narrado pelas protagonistas mais insossas que a Sophie já inscreveu e os interesses românticos mais insossos que ela já escreveu também, pra combinar bem. Vou ficar pra sempre me perguntando o que aconteceu.
![]() 4) Não és tu, sou eu (um livro bom, lido na altura errada)
4) Não és tu, sou eu (um livro bom, lido na altura errada)
Esse posto sempre vai ser de Um Dia, do David Nicholls, um livro adorado por quase toda a blogosfera literária em 2011 e um favorito de muita gente cujo gosto eu respeito muito. Na época, resenhei o livro, disse que gostei da proposta, gostei do desenvolvimento da proposta, mas simplesmente não consegui me conectar e terminei meio indiferente e, inclusive, disse que achava que era eu quem não tinha bagagem pra fazer essa conexão. Sei que preciso reler, e fico pensando que talvez nesse momento eu passe a amá-lo. Eu já vi e revi a adaptação dele pro cinema, e gostei muito nas duas vezes, apesar de sempre terminar com a sensação de que ele foi muito abrandado e deixou muito do espírito da obra original no meio do caminho. Resumo: preciso reler.
![]() 5) Eu tentei... (um livro que tentamos ler, mas não conseguimos)
5) Eu tentei... (um livro que tentamos ler, mas não conseguimos)
Eu raramente abandono um livro. Sempre fico na esperança de que no final das contas ele vai ser pelo menos razoável. Dito isso, não aguentei ler nem um terço de uma das distopias mais ame-ou-odeie que eu já vi por aí: Feios, do Scott Westerfield, que não serviu nem para passar o tempo. Ideia possivelmente boa, mas com uma protagonista insuportável e uma narrativa chata e desinteressante. Não deu. E nem vai dar, desculpa, mundo.
6) Hã? (um livro que lemos e não percebemos nada OU um livro com final surpreendente)
O livro em si não teve um final surpreendente porque eu já tinha assistido à adaptação pro cinema alguns anos antes. Mas como essa é uma das melhores adaptações que eu já vi na vida, vou considera-lo mesmo assim: Reparação, do Ian McEwan. Vendo o filme pela primeira vez, eu não esperava de jeito nenhum que fosse me deparar com um final daqueles – e que compreensão dolorosa é a que você sente quando entende o que está acontecende. Eu obviamente já sabia qual era a conclusão quando peguei o livro pra ler, e, se tivesse feito uma leitura mais atenta, poderia ter buscado indícios de que aquele fim estava por vir na narrativa (incrível, incrível, incrível), mas não o fiz. O final foi surpreendente pra vocês também?
![]() 7) Foi tão bom, não foi? (um livro que devoramos)
7) Foi tão bom, não foi? (um livro que devoramos)
Orgulho e Preconceito é um livro consideravelmente longo, consideravelmente antigo, e consideravelmente visto como entediante por um monte de gente. Dito isso, li pela primeira vez com uns 14 ou 15 anos e devo ter demorado um mês inteirinho pra terminar. Daí, ano passado, reli pra escrever um trabalho da faculdade e eu realmente não consegui largar, inclusive nas minhas viagens de ônibus. Não só amo/sou o romance entre nossa querida Lizzy e nosso maravilhoso Sr. Darcy, mas amo/sou essa narrativa divertidíssima e irônica, mas com toda a classe do mundo. Como no mundo tem gente que acha esse livro entediante pesquisar.
![]() 8) Entre livros e tachos (uma personagem que gostaríamos que cozinhasse para nós)
8) Entre livros e tachos (uma personagem que gostaríamos que cozinhasse para nós)
Passei uns bons minutos tentando pensar em um livro que eu tenha lido e que contivesse uma cozinheira de mão cheia, mas a verdade é que nada me veio à cabeça e até agora estou sem resposta. Talvez eu acabe me arrependendo quando lembrar de uma, mas por ora vou ficar com um certo recém-graduado emYale Eli misterioso que aprendeu a fazer panquecas nas férias de primavera (ao invés de ir passear com os coleguinhas) e que faz waffles na máquina que achou no lixo (mas ele limpou e consertou antes) que você encontra ao ler a - incrível! - série Sociedade Secreta, da Diana Peterfreund.
![]() 9) Fast forward (um livro que poderia ter menos páginas que não se perdia nada)
9) Fast forward (um livro que poderia ter menos páginas que não se perdia nada)
Li uma vez que Dickens era pago pela quantidade de palavras que escrevia. Deve ser lenda, mas explicaria as mais de 500 páginas de Grandes Esperanças. Tem uma história boa que daria uma excelente novela das seis (alô, Globo), o primeiro e o último volumes são muito bons (especialmente o primeiro), mas que livro... lento. É claro que não vou ser eu que vou afirmar que não se perderia nada se a gente desse uma enxugadinha na história de Pip, mas se fosse minha, faria isso sem dó.
![]() 10) Às cegas (um livro que escolheríamos só por causa do título)
10) Às cegas (um livro que escolheríamos só por causa do título)
A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, é provavelmente o título mais curioso em toda a minha estante (na verdade, roubei o livro da minha mãe), talvez porque eu não tinha a menor ideia do que ele queria dizer ou a que se referia. Ele aparece dentro da narrativa, relacionando-o à sua protagonista, e eu entendi o porquê – e acho que foi muito bem escolhido. É um título curioso e inusitado para um livro curioso e inusitado que fala sobre personagens sem dúvida curiosas e inusitadas. Também por isso, muito bem escolhido.
![]() 11) O que vale é o interior (um livro bom com a capa feia)
11) O que vale é o interior (um livro bom com a capa feia)
Esse é um tópico com milhares de respostas possíveis, e aqui fica meu apelo às editoras: tenham mais carinho na escolha das capas de livros incríveis (aliás, livros ruins com capas lindas também estão por todos os lados. Que desperdício). Eu tenho muita agonia de capas com modelos, especialmente num superclose, como é o caso de Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver. Não que a modelo seja feia ou qualquer coisa, e a expressão no rosto dela não está errada nem nada. Mas é que... Tem necessidade dessas capas com cabeças gigantes? Embora a capa me dê agonia, o livro é incrível, cheio de sentimento verdadeiro, com personagens muito bem escritos e outro daqueles títulos de YA que nos enchem de orgulho.
![]() 12) Rir é o melhor remédio (um livro que nos tenha feito rir)
12) Rir é o melhor remédio (um livro que nos tenha feito rir)
Na minha timeline do twitter tem havido muita discussão sobre a qualidade do que a Meg Cabot tem produzido ultimamente, que é uma coisa que eu também questiono. Mesmo assim, na fase de outro da autora, ela escreveu muita coisa divertidíssima. O meu favorito entre eles é Todo Garoto Tem, todo narrado em forma de e-mails ou diários, e é Meg Cabot em sua melhor forma. Ria alto das coisas que Jane e Cal diziam, especialmente desse último porque ele era tão... mal humorado. Saudades desses livrinhos, por sinal.
![]() 13) Tragam-me os Kleenex, faz favor (um livro que nos tenha feito chorar)
13) Tragam-me os Kleenex, faz favor (um livro que nos tenha feito chorar)
Eu já contei pra vocês que tem alguns anos que me fazer chorar não é mérito nenhum, visto que eu choro por tudo. Mas eu nem sempre fui assim, e é por isso que lembro tão bem do quanto chorei lá nos meus treze anos lendo Meninas de Calças, o terceiro volume da saga dos jeans viajantes. Chorei muito numa cena em que uma personagem está tendo um bebê (porque eu sou extremamente sensível com esses milagres diários da vida) e chorei ainda mais ao final ao ler, numa história que fala sobre amizade antes de falar sobre qualquer outra coisa, que "Naquele tempo, lá atrás, era exatamente como agora. Para enfrentar a correnteza, aprendemos a nos dar as mãos".
14) Esse livro tem um V de volta (um livro que não emprestaríamos a ninguém)
Pra essa pergunta, sinceramente, não tenho resposta. Não tenho nenhum livro raro nem nenhuma edição especial ou com a qual eu não viveria sem. A crença de que os livros estão aí para serem lidos e amados pelo maior número de pessoas possível é mais forte do que meu apreço pelas minhas edições em hardcover que não têm nem um amassadinho. Quanto mais eu amar um livro, maior a chance de eu querer te emprestar. Desde que você me devolva com todas as partes no lugar e sem derrubar café em cima, claro.
![]() 15) Espera aí que eu já te atendo (um livro ou autor que estamos constantemente a adiar)
15) Espera aí que eu já te atendo (um livro ou autor que estamos constantemente a adiar)
Tem quase um ano que um livro que eu queria muito ler e dei a sorte de encontrar pela metade do preço na Cultura está repousando na minha estante esperando sua vez e sendo passado pra trás: A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Já ouvi muitas coisas boas a respeito, já li resenhas que recomendavam o livro pra todas as mulheres, tenho curiosidade a respeito e acho vergonhoso o quanto eu não li dos (provavelmente) incríveis autores latino-americanos, e esse pode ser o pontapé inicial. Por isso, eu garanto, vou ler. Assim que eu tiver tempo pra me dedicar direito à leitura (porque o livro é bem... longo).
Por último, claro, as indicações: passo pra Mell, pra Amanda, pra Lisa e pra quem mais tiver interesse.
(PS: estou muito chateada com a presença de zero títulos brasileiros nessa lista. Um dia ainda vou escrever um post sobre os clássicos brasileiros que eu amo e que queria que todo mundo amasse também).
 1) Vox Populi (um livro para recomendar a toda gente)
1) Vox Populi (um livro para recomendar a toda gente)Recomendar um livro a toda genteé uma tarefa extremamente difícil porque é impossível agradar todo mundo. Mesmo assim, o livro que eu sinto vontade de recomendar pra qualquer um – independente de quais venham a ser as reações a ele – é O Grande Gatsby. Gatsby é uma obra que eu demorei uns quatro dias pra ler um capítulo, e uns três dias pra ler todo o resto (não que seja particularmente longo). Terminei numa madrugada de domingo para segunda porque precisava devolver pra biblioteca, e ler no meio da madrugada silenciosa os últimos parágrafos incríveis que Fitzgerald deu a essa narrativa foi quase um momento de iluminação. Naquele momento, Nick Carraway não falava mais só de Gatsby, ou só dele, ou só daqueles personagens, mas de todos nós, e gostaria que todo mundo pudesse passar pela mesma conexão que senti durante aqueles minutos, porque é uma das coisas mais incríveis que a arte pode fazer.
 2) Maldito plágio (o livro que gostaríamos de ter escrito)
2) Maldito plágio (o livro que gostaríamos de ter escrito)Eu sou uma grande defensora da literatura infanto-juvenil, do young-adult, do chick-lit e do que quer que seja que as pessoas gostam de ler. Não porque todos os livros sejam bons, mas porque todos podem ser bons, independente do gênero literário em que acabem caindo. Por isso, queria ter sido eu a autora de um dos YAs mais incríveis que eu já li e que está aí pra provar que pode ser tão bonito, tão rico e tão bem construído quanto um título que você encontra nas outras seções de literatura das livrarias. The Scorpio Races, da Maggie Stiefvater, é, segundo a própria autora, o livro que ela sempre quis escrever, mas que nunca tinha conseguido antes, apesar das inúmeras tentativas. Mas conseguiu, pra nossa sorte. É um livro sobre cavalos carnívoros e potencialmente assassinos que vêm do mar? É. E se você duvida que uma história dessas possa ser bela, eu te entendo. Mas eu peço que você supere a descrença, porque vai valer a pena.
 3) Não vale a pena abater árvores por causa disso
3) Não vale a pena abater árvores por causa dissoHoje em dia sou um pouco mais cuidadosa na hora de escolher os títulos que eu leio, e faz tempo que não detesto um livro em absolutamente tudo o que ele diz ou contém. Mas o livro mais decepcionante dos últimos tempos tem que ser A Lua de Mel, da minha querida rainha do chick-lit Sophie Kinsella. E eu digo isso com tristeza no coração, porque eu adoro a Sophie. Na narração dos momentos hilários da história, eu percebia que só podia ser dela. Mas o resto? Só... não. Você tem duas protagonistas e as motivações das duas ao longo de um livro inteiro (com quase 500 páginas) são: 1) conseguir fazer sexo e consumar o casamento com um cara que namorava e reencontrou dois dias atrás, no caso de uma; 2) impedir que a irmã faça isso, no caso da segunda. E isso é o livro inteirinho (com alguns poucos momentos com algum tipo de sentimento por atrás), vivido e narrado pelas protagonistas mais insossas que a Sophie já inscreveu e os interesses românticos mais insossos que ela já escreveu também, pra combinar bem. Vou ficar pra sempre me perguntando o que aconteceu.
 4) Não és tu, sou eu (um livro bom, lido na altura errada)
4) Não és tu, sou eu (um livro bom, lido na altura errada)Esse posto sempre vai ser de Um Dia, do David Nicholls, um livro adorado por quase toda a blogosfera literária em 2011 e um favorito de muita gente cujo gosto eu respeito muito. Na época, resenhei o livro, disse que gostei da proposta, gostei do desenvolvimento da proposta, mas simplesmente não consegui me conectar e terminei meio indiferente e, inclusive, disse que achava que era eu quem não tinha bagagem pra fazer essa conexão. Sei que preciso reler, e fico pensando que talvez nesse momento eu passe a amá-lo. Eu já vi e revi a adaptação dele pro cinema, e gostei muito nas duas vezes, apesar de sempre terminar com a sensação de que ele foi muito abrandado e deixou muito do espírito da obra original no meio do caminho. Resumo: preciso reler.
 5) Eu tentei... (um livro que tentamos ler, mas não conseguimos)
5) Eu tentei... (um livro que tentamos ler, mas não conseguimos)Eu raramente abandono um livro. Sempre fico na esperança de que no final das contas ele vai ser pelo menos razoável. Dito isso, não aguentei ler nem um terço de uma das distopias mais ame-ou-odeie que eu já vi por aí: Feios, do Scott Westerfield, que não serviu nem para passar o tempo. Ideia possivelmente boa, mas com uma protagonista insuportável e uma narrativa chata e desinteressante. Não deu. E nem vai dar, desculpa, mundo.
6) Hã? (um livro que lemos e não percebemos nada OU um livro com final surpreendente)
O livro em si não teve um final surpreendente porque eu já tinha assistido à adaptação pro cinema alguns anos antes. Mas como essa é uma das melhores adaptações que eu já vi na vida, vou considera-lo mesmo assim: Reparação, do Ian McEwan. Vendo o filme pela primeira vez, eu não esperava de jeito nenhum que fosse me deparar com um final daqueles – e que compreensão dolorosa é a que você sente quando entende o que está acontecende. Eu obviamente já sabia qual era a conclusão quando peguei o livro pra ler, e, se tivesse feito uma leitura mais atenta, poderia ter buscado indícios de que aquele fim estava por vir na narrativa (incrível, incrível, incrível), mas não o fiz. O final foi surpreendente pra vocês também?
 7) Foi tão bom, não foi? (um livro que devoramos)
7) Foi tão bom, não foi? (um livro que devoramos)Orgulho e Preconceito é um livro consideravelmente longo, consideravelmente antigo, e consideravelmente visto como entediante por um monte de gente. Dito isso, li pela primeira vez com uns 14 ou 15 anos e devo ter demorado um mês inteirinho pra terminar. Daí, ano passado, reli pra escrever um trabalho da faculdade e eu realmente não consegui largar, inclusive nas minhas viagens de ônibus. Não só amo/sou o romance entre nossa querida Lizzy e nosso maravilhoso Sr. Darcy, mas amo/sou essa narrativa divertidíssima e irônica, mas com toda a classe do mundo. Como no mundo tem gente que acha esse livro entediante pesquisar.
 8) Entre livros e tachos (uma personagem que gostaríamos que cozinhasse para nós)
8) Entre livros e tachos (uma personagem que gostaríamos que cozinhasse para nós)Passei uns bons minutos tentando pensar em um livro que eu tenha lido e que contivesse uma cozinheira de mão cheia, mas a verdade é que nada me veio à cabeça e até agora estou sem resposta. Talvez eu acabe me arrependendo quando lembrar de uma, mas por ora vou ficar com um certo recém-graduado em
 9) Fast forward (um livro que poderia ter menos páginas que não se perdia nada)
9) Fast forward (um livro que poderia ter menos páginas que não se perdia nada)Li uma vez que Dickens era pago pela quantidade de palavras que escrevia. Deve ser lenda, mas explicaria as mais de 500 páginas de Grandes Esperanças. Tem uma história boa que daria uma excelente novela das seis (alô, Globo), o primeiro e o último volumes são muito bons (especialmente o primeiro), mas que livro... lento. É claro que não vou ser eu que vou afirmar que não se perderia nada se a gente desse uma enxugadinha na história de Pip, mas se fosse minha, faria isso sem dó.
 10) Às cegas (um livro que escolheríamos só por causa do título)
10) Às cegas (um livro que escolheríamos só por causa do título)A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, é provavelmente o título mais curioso em toda a minha estante (na verdade, roubei o livro da minha mãe), talvez porque eu não tinha a menor ideia do que ele queria dizer ou a que se referia. Ele aparece dentro da narrativa, relacionando-o à sua protagonista, e eu entendi o porquê – e acho que foi muito bem escolhido. É um título curioso e inusitado para um livro curioso e inusitado que fala sobre personagens sem dúvida curiosas e inusitadas. Também por isso, muito bem escolhido.
 11) O que vale é o interior (um livro bom com a capa feia)
11) O que vale é o interior (um livro bom com a capa feia)Esse é um tópico com milhares de respostas possíveis, e aqui fica meu apelo às editoras: tenham mais carinho na escolha das capas de livros incríveis (aliás, livros ruins com capas lindas também estão por todos os lados. Que desperdício). Eu tenho muita agonia de capas com modelos, especialmente num superclose, como é o caso de Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver. Não que a modelo seja feia ou qualquer coisa, e a expressão no rosto dela não está errada nem nada. Mas é que... Tem necessidade dessas capas com cabeças gigantes? Embora a capa me dê agonia, o livro é incrível, cheio de sentimento verdadeiro, com personagens muito bem escritos e outro daqueles títulos de YA que nos enchem de orgulho.
 12) Rir é o melhor remédio (um livro que nos tenha feito rir)
12) Rir é o melhor remédio (um livro que nos tenha feito rir)Na minha timeline do twitter tem havido muita discussão sobre a qualidade do que a Meg Cabot tem produzido ultimamente, que é uma coisa que eu também questiono. Mesmo assim, na fase de outro da autora, ela escreveu muita coisa divertidíssima. O meu favorito entre eles é Todo Garoto Tem, todo narrado em forma de e-mails ou diários, e é Meg Cabot em sua melhor forma. Ria alto das coisas que Jane e Cal diziam, especialmente desse último porque ele era tão... mal humorado. Saudades desses livrinhos, por sinal.
 13) Tragam-me os Kleenex, faz favor (um livro que nos tenha feito chorar)
13) Tragam-me os Kleenex, faz favor (um livro que nos tenha feito chorar)Eu já contei pra vocês que tem alguns anos que me fazer chorar não é mérito nenhum, visto que eu choro por tudo. Mas eu nem sempre fui assim, e é por isso que lembro tão bem do quanto chorei lá nos meus treze anos lendo Meninas de Calças, o terceiro volume da saga dos jeans viajantes. Chorei muito numa cena em que uma personagem está tendo um bebê (porque eu sou extremamente sensível com esses milagres diários da vida) e chorei ainda mais ao final ao ler, numa história que fala sobre amizade antes de falar sobre qualquer outra coisa, que "Naquele tempo, lá atrás, era exatamente como agora. Para enfrentar a correnteza, aprendemos a nos dar as mãos".
14) Esse livro tem um V de volta (um livro que não emprestaríamos a ninguém)
Pra essa pergunta, sinceramente, não tenho resposta. Não tenho nenhum livro raro nem nenhuma edição especial ou com a qual eu não viveria sem. A crença de que os livros estão aí para serem lidos e amados pelo maior número de pessoas possível é mais forte do que meu apreço pelas minhas edições em hardcover que não têm nem um amassadinho. Quanto mais eu amar um livro, maior a chance de eu querer te emprestar. Desde que você me devolva com todas as partes no lugar e sem derrubar café em cima, claro.
 15) Espera aí que eu já te atendo (um livro ou autor que estamos constantemente a adiar)
15) Espera aí que eu já te atendo (um livro ou autor que estamos constantemente a adiar)Tem quase um ano que um livro que eu queria muito ler e dei a sorte de encontrar pela metade do preço na Cultura está repousando na minha estante esperando sua vez e sendo passado pra trás: A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Já ouvi muitas coisas boas a respeito, já li resenhas que recomendavam o livro pra todas as mulheres, tenho curiosidade a respeito e acho vergonhoso o quanto eu não li dos (provavelmente) incríveis autores latino-americanos, e esse pode ser o pontapé inicial. Por isso, eu garanto, vou ler. Assim que eu tiver tempo pra me dedicar direito à leitura (porque o livro é bem... longo).
Por último, claro, as indicações: passo pra Mell, pra Amanda, pra Lisa e pra quem mais tiver interesse.
(PS: estou muito chateada com a presença de zero títulos brasileiros nessa lista. Um dia ainda vou escrever um post sobre os clássicos brasileiros que eu amo e que queria que todo mundo amasse também).







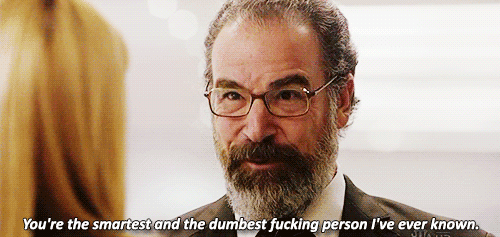


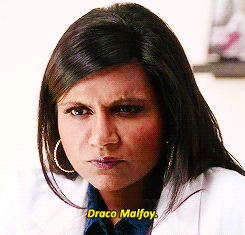



































 O Despertar de uma Paixão (John Curran, 2006): O primeiro filme do ano já foi, casualmente, um cinco estrelas. É uma mistura de drama com romance de época (mas muito menos sobre romance do que sobre amor), que justapõe o horror da epidemia de cólera na China com as paisagens incrivelmente bonitas que aquele lugar tomado pela doença oferecia (a fotografia desse filme é linda demais!). Segue um rumo bem diferente do que eu esperava e, apesar de o filme ter ganhado um título bem brega em português, é bem isso que a gente assiste. O despertar de uma paixão entre duas pessoas que foram ruins uma para a outra, mas que também foram muito importantes e necessárias uma para a outra, no contexto. É lindo.
O Despertar de uma Paixão (John Curran, 2006): O primeiro filme do ano já foi, casualmente, um cinco estrelas. É uma mistura de drama com romance de época (mas muito menos sobre romance do que sobre amor), que justapõe o horror da epidemia de cólera na China com as paisagens incrivelmente bonitas que aquele lugar tomado pela doença oferecia (a fotografia desse filme é linda demais!). Segue um rumo bem diferente do que eu esperava e, apesar de o filme ter ganhado um título bem brega em português, é bem isso que a gente assiste. O despertar de uma paixão entre duas pessoas que foram ruins uma para a outra, mas que também foram muito importantes e necessárias uma para a outra, no contexto. É lindo. Perfume: A História de um Assassino (Tom Tykwer, 2006): Perfume é uma das histórias mais bizarras a que eu já assisti, funcionando numa espécie de realismo mágico, e o uso do narrador em off faz soar como um tipo de... fábula? Um filme ainda não tem a capacidade de transmitir para você os cheiros que o protagonista dele sente com tanta intensidade, mas esse é tão sensorial, por meio das imagens, que chega quase. É como se você de fato entrasse na cabeça do assassino do título. O Ben Whishaw interpretou
Perfume: A História de um Assassino (Tom Tykwer, 2006): Perfume é uma das histórias mais bizarras a que eu já assisti, funcionando numa espécie de realismo mágico, e o uso do narrador em off faz soar como um tipo de... fábula? Um filme ainda não tem a capacidade de transmitir para você os cheiros que o protagonista dele sente com tanta intensidade, mas esse é tão sensorial, por meio das imagens, que chega quase. É como se você de fato entrasse na cabeça do assassino do título. O Ben Whishaw interpretou  Zodíaco (David Fincher, 2007): Acho que esse é um dos filmes do Fincher que são menos queridos pelo público, mas achei bem interessante e bem feito. As cenas dos assassinatos são incrivelmente agonizantes, e também fiquei #tensa em vários momentos envolvendo o personagem do Jake Gyllenhaal (que fica tão obcecado que resolve dar uma de investigador) - tipo uma num porão, na qual eu só conseguia pensar "MEU FILHO, SAI DAÍ". Porém, todavia, contudo, se a história do Zodíaco é de fato bem interessante, e dá pra entender a obsessão do protagonista, o filme é meio longo e lá pela metade, quando a ação da polícia é que está em foco, dá uma certa vontade de dormir - ainda que depois volte com tudo. É um bom filme de crime e investigação, e, porque sou eu, fiquei morrendo de medo enquanto andava pela casa escura depois de assistir.
Zodíaco (David Fincher, 2007): Acho que esse é um dos filmes do Fincher que são menos queridos pelo público, mas achei bem interessante e bem feito. As cenas dos assassinatos são incrivelmente agonizantes, e também fiquei #tensa em vários momentos envolvendo o personagem do Jake Gyllenhaal (que fica tão obcecado que resolve dar uma de investigador) - tipo uma num porão, na qual eu só conseguia pensar "MEU FILHO, SAI DAÍ". Porém, todavia, contudo, se a história do Zodíaco é de fato bem interessante, e dá pra entender a obsessão do protagonista, o filme é meio longo e lá pela metade, quando a ação da polícia é que está em foco, dá uma certa vontade de dormir - ainda que depois volte com tudo. É um bom filme de crime e investigação, e, porque sou eu, fiquei morrendo de medo enquanto andava pela casa escura depois de assistir. Exôdo: Deuses e Reis (Ridley Scott, 2014): Sabia que era roubada, mas fui mesmo assim. Pra ser justa com o Ridley Scott (porque ele é produtor da
Exôdo: Deuses e Reis (Ridley Scott, 2014): Sabia que era roubada, mas fui mesmo assim. Pra ser justa com o Ridley Scott (porque ele é produtor da  Mãos Talentosas (Thomas Carter, 2009): A história do Ben Carson, o protagonista desse filme, é fantástica. Quer dizer, é um menininho negro estudando numa escola para crianças brancas nos anos sessenta, que diz constante para a mãe que é burro demais para ir bem nos estudos e que eventualmente vira um cirurgião tão bom que é chamado (isso é a primeira cena do filme, só pra avisar) para separar gêmeos siameses ligados pela cabeça, coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer. É uma pena, então, que essa história de vida não tenha sido tão bem aproveitada assim, porque acabou ficando um pouco raso e rápido demais. É um filme para TV bem a cara de filme para TV, o que não quer dizer que eu não chorei horrores no final, porque sou eu (e porque é uma história bonita).
Mãos Talentosas (Thomas Carter, 2009): A história do Ben Carson, o protagonista desse filme, é fantástica. Quer dizer, é um menininho negro estudando numa escola para crianças brancas nos anos sessenta, que diz constante para a mãe que é burro demais para ir bem nos estudos e que eventualmente vira um cirurgião tão bom que é chamado (isso é a primeira cena do filme, só pra avisar) para separar gêmeos siameses ligados pela cabeça, coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer. É uma pena, então, que essa história de vida não tenha sido tão bem aproveitada assim, porque acabou ficando um pouco raso e rápido demais. É um filme para TV bem a cara de filme para TV, o que não quer dizer que eu não chorei horrores no final, porque sou eu (e porque é uma história bonita). Inside Llewyn Davis (Ethan e Joel Coen, 2013): Llewyn Davis é um cantor de folk que começa o filme enfiado numa bosta tremenda, e passa o resto dele meio-que-tentando-sair-mas-não-tanto-assim. Sai de lugar nenhum e chega a lugar nenhum, mas, nesse caso, é intencional e é uma coisa dramaticamente interessante. Interessante, mas não marcante. Interessante, mas não particularmente bom. Interessante, mas já esqueci da maior parte. Destaque para a música, que é parte fundamental do filme, e eu particularmente gostei muito porque folk é uma delícia de ouvir. Justin Timberlake, Carey Mulligan e um terceiro
Inside Llewyn Davis (Ethan e Joel Coen, 2013): Llewyn Davis é um cantor de folk que começa o filme enfiado numa bosta tremenda, e passa o resto dele meio-que-tentando-sair-mas-não-tanto-assim. Sai de lugar nenhum e chega a lugar nenhum, mas, nesse caso, é intencional e é uma coisa dramaticamente interessante. Interessante, mas não marcante. Interessante, mas não particularmente bom. Interessante, mas já esqueci da maior parte. Destaque para a música, que é parte fundamental do filme, e eu particularmente gostei muito porque folk é uma delícia de ouvir. Justin Timberlake, Carey Mulligan e um terceiro  O Suspeito (Gavin Hood, 2007): Por algum motivo, esse filme estava na minha lista do Netflix, que me informou que ele ia sair do catálogo, que é um dos motivos que me fazem assistir aos títulos que estão estacionados por lá há tempos. No fim das contas, ele segue no catálogo, o que quer dizer que eu perdi minhas duas horas por nada. Um ótimo elenco desperdiçado num filme tão fraco. Talvez ele fizesse mais sentido lá em 2007, mas a verdade é que a temática do pós-11 de setembro já foi tão, tão explorada que é difícil fazer algo interessante com ela, ainda que a premissa desse aqui seja boa (e a mensagem, eu acho, também) (acho).
O Suspeito (Gavin Hood, 2007): Por algum motivo, esse filme estava na minha lista do Netflix, que me informou que ele ia sair do catálogo, que é um dos motivos que me fazem assistir aos títulos que estão estacionados por lá há tempos. No fim das contas, ele segue no catálogo, o que quer dizer que eu perdi minhas duas horas por nada. Um ótimo elenco desperdiçado num filme tão fraco. Talvez ele fizesse mais sentido lá em 2007, mas a verdade é que a temática do pós-11 de setembro já foi tão, tão explorada que é difícil fazer algo interessante com ela, ainda que a premissa desse aqui seja boa (e a mensagem, eu acho, também) (acho). Terapia de Risco (Steven Soderbergh, 2013): No começo, pensei que esse seria um filme reflexivo sobre uma mulher com depressão. Depois, pensei que ele discutiria o aspecto dos medicamentos sobre o qual a gente não pensa muito (as reações adversas) e que, talvez, fosse enveredar para uma crítica à indústria farmacêutica. Mas não era nenhuma dessas coisas. É um thriller muito bom, com boas viradas e uma trama bem inesperada e nada previsível. Fiquei bem surpresa com ele, e indico bastante para quem gosta de filmes nesse estilo. Destaque para a atuação da Rooney Mara, que é ótima.
Terapia de Risco (Steven Soderbergh, 2013): No começo, pensei que esse seria um filme reflexivo sobre uma mulher com depressão. Depois, pensei que ele discutiria o aspecto dos medicamentos sobre o qual a gente não pensa muito (as reações adversas) e que, talvez, fosse enveredar para uma crítica à indústria farmacêutica. Mas não era nenhuma dessas coisas. É um thriller muito bom, com boas viradas e uma trama bem inesperada e nada previsível. Fiquei bem surpresa com ele, e indico bastante para quem gosta de filmes nesse estilo. Destaque para a atuação da Rooney Mara, que é ótima. O Homem que Fazia Chover (Francis Ford Coppola, 1997): Depois que eu assisti a um
O Homem que Fazia Chover (Francis Ford Coppola, 1997): Depois que eu assisti a um  The Edge of Love (John Maybury, 2008): Baseado quadrado amoroso envolvendo o Dylan Thomas (quem viu Insterstellar com certeza vai lembrar do poema maravilhoso dele, "
The Edge of Love (John Maybury, 2008): Baseado quadrado amoroso envolvendo o Dylan Thomas (quem viu Insterstellar com certeza vai lembrar do poema maravilhoso dele, "
 Bride & Prejudice (Gurinder Chadha, 2004): Eu nunca tinha visto um filme de Bollywood, ainda que esse aqui diga logo no poster que é "Bollywood encontra Hollywood", então eu tenho certeza de que continuo sem ter visto um filme bollywoodiano. Essa adaptação de Orgulho e Preconceito para os dias atuais, na Índia, é um filminho bem sessão da tarde numa estética meio novela mexicana, mas é engraçadinho e bonitinho. Adaptações diferentes de O&P sempre chamam a minha atenção, e assisti a essa mais pela curiosidade, mas confesso que me decepcionei um pouco - esperava bem mais dos números musicais, pelo menos (mas as cenas de baile, se é que dá pra chamar assim, são ótimas). Se você quiser assistir, tem que abrir o coração de verdade, e, como eu não fiz isso, penei um pouquinho pra chegar ao final.
Bride & Prejudice (Gurinder Chadha, 2004): Eu nunca tinha visto um filme de Bollywood, ainda que esse aqui diga logo no poster que é "Bollywood encontra Hollywood", então eu tenho certeza de que continuo sem ter visto um filme bollywoodiano. Essa adaptação de Orgulho e Preconceito para os dias atuais, na Índia, é um filminho bem sessão da tarde numa estética meio novela mexicana, mas é engraçadinho e bonitinho. Adaptações diferentes de O&P sempre chamam a minha atenção, e assisti a essa mais pela curiosidade, mas confesso que me decepcionei um pouco - esperava bem mais dos números musicais, pelo menos (mas as cenas de baile, se é que dá pra chamar assim, são ótimas). Se você quiser assistir, tem que abrir o coração de verdade, e, como eu não fiz isso, penei um pouquinho pra chegar ao final.



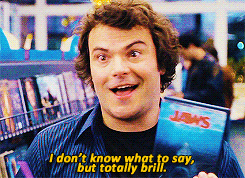

 O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson: Acho que é bacana ser sincera e dizer que Moonrise Kingdom foi o único filme do Wes Anderson que eu assisti até o final, e não gostei. O nosso santo não bate, acho o estilo afetado demais e o humor estranho demais, por isso resisti ao filme mais recente do diretor mesmo tendo achado o trailer bacana e o elenco ótimo. Mas aí eu o assisti e achei visualmente uma delícia, achei as cores maravilhosas, achei bem genuinamente divertido em vários momentos (inclusive dei umas boas risadas, acreditem), achei que teve diálogos bem ótimos, achei uma historinha bacana, achei um bom filme. É isso.
O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson: Acho que é bacana ser sincera e dizer que Moonrise Kingdom foi o único filme do Wes Anderson que eu assisti até o final, e não gostei. O nosso santo não bate, acho o estilo afetado demais e o humor estranho demais, por isso resisti ao filme mais recente do diretor mesmo tendo achado o trailer bacana e o elenco ótimo. Mas aí eu o assisti e achei visualmente uma delícia, achei as cores maravilhosas, achei bem genuinamente divertido em vários momentos (inclusive dei umas boas risadas, acreditem), achei que teve diálogos bem ótimos, achei uma historinha bacana, achei um bom filme. É isso. A Teoria de Tudo, de James Marsh: Meu favorito, que todo mundo parece ter achado bem mediano - exceto pela atuação do Eddie Redmayne. É uma cinebiografia bem convencional com uma fotografia meio efeitos-do-Instagram, mas, gente, que coisa bem bonita. Que trilha sonora maravilhosa. Que Eddie Redmayne. Que linda celebração de duas pessoas extraordinárias. Acho que é preciso aceitá-lo nesse sentido, mais como uma celebração do que como uma biografia. Não é a história do Stephen Hawking, e sim a história dele com a Jane, que também foi uma pessoa incrível - e se na vida real ela talvez tenha sido relegada ao papel de uma grande coadjuvante, não é assim no longa. E, não, o filme não é uma divulgação científica. Para isso, imagino que você possa ler, tcharã, Uma Breve História do Tempo. Abram seus corações e vão lá ver.
A Teoria de Tudo, de James Marsh: Meu favorito, que todo mundo parece ter achado bem mediano - exceto pela atuação do Eddie Redmayne. É uma cinebiografia bem convencional com uma fotografia meio efeitos-do-Instagram, mas, gente, que coisa bem bonita. Que trilha sonora maravilhosa. Que Eddie Redmayne. Que linda celebração de duas pessoas extraordinárias. Acho que é preciso aceitá-lo nesse sentido, mais como uma celebração do que como uma biografia. Não é a história do Stephen Hawking, e sim a história dele com a Jane, que também foi uma pessoa incrível - e se na vida real ela talvez tenha sido relegada ao papel de uma grande coadjuvante, não é assim no longa. E, não, o filme não é uma divulgação científica. Para isso, imagino que você possa ler, tcharã, Uma Breve História do Tempo. Abram seus corações e vão lá ver. O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum: Outra cinebiografia bem convencional, mas também não é A História de Alan Turing. Esse, sim, é mais focado no trabalho do biografado - mais especificamente, ao lado da equipe com quem ele trabalhou durante a Segunda Guerra para criar a máquina que decifraria as mensagens indecifráveis da inteligência alemã e ajudaria os Aliados a venceram a guerra - do que na vida pessoal. O aspecto técnico-matemático da coisa é diluído em explicações bem simplificadas, o que quer dizer que se você está com receio de ver porque ia muito mal em matemática na escola, pode ir sem medo. É um filme bacana, apesar de emocionar e empolgar menos do que poderia, considerando a temática e tudo o que Turing deve ter sofrido graças a leis severamente homofóbicas. Ótima atuação do Benedict Cumberbatch e ótimo Dream Team de atores que eu adoro na televisão e no cinema britânico.
O Jogo da Imitação, de Morten Tyldum: Outra cinebiografia bem convencional, mas também não é A História de Alan Turing. Esse, sim, é mais focado no trabalho do biografado - mais especificamente, ao lado da equipe com quem ele trabalhou durante a Segunda Guerra para criar a máquina que decifraria as mensagens indecifráveis da inteligência alemã e ajudaria os Aliados a venceram a guerra - do que na vida pessoal. O aspecto técnico-matemático da coisa é diluído em explicações bem simplificadas, o que quer dizer que se você está com receio de ver porque ia muito mal em matemática na escola, pode ir sem medo. É um filme bacana, apesar de emocionar e empolgar menos do que poderia, considerando a temática e tudo o que Turing deve ter sofrido graças a leis severamente homofóbicas. Ótima atuação do Benedict Cumberbatch e ótimo Dream Team de atores que eu adoro na televisão e no cinema britânico. Selma, de Ava DuVernay: O único indicado que não é primordialmente sobre um homem branco e o único dirigido por uma mulher. Sua falta de outras indicações gerou bastante revolta na internet, e ela se justifica principalmente por causa da não indicação de David Oyelowo, que eu descobri que já tinha visto em outros papéis menores, mas que aqui me surpreendeu com um trabalho fantástico. Entregar tão bem os discursos de uma personalidade tão importante e famosa por eles como o Martin Luther King certamente não era uma tarefa fácil, muito menos precisando contrastar sua figura pública com a privada. O filme é ótimo, mas ele é bem centrado em diálogos, alguns longos e demorados, o que faz com que ele seja um pouco devagar. Não é uma biopic tradicional; como eu vi por aí, é menos uma história sobre uma pessoa do que sobre todo um movimento. É forte como precisava ser, e extremamente importante. A consequência da marcha em Selma foi uma grande vitória do Civil Rights Movement, mas se a gente olhar para eventos que ocorreram só no ano passado nos EUA, é fácil lembrar que ainda estamos bem, bem longe daquele sonho que MLK tinha.
Selma, de Ava DuVernay: O único indicado que não é primordialmente sobre um homem branco e o único dirigido por uma mulher. Sua falta de outras indicações gerou bastante revolta na internet, e ela se justifica principalmente por causa da não indicação de David Oyelowo, que eu descobri que já tinha visto em outros papéis menores, mas que aqui me surpreendeu com um trabalho fantástico. Entregar tão bem os discursos de uma personalidade tão importante e famosa por eles como o Martin Luther King certamente não era uma tarefa fácil, muito menos precisando contrastar sua figura pública com a privada. O filme é ótimo, mas ele é bem centrado em diálogos, alguns longos e demorados, o que faz com que ele seja um pouco devagar. Não é uma biopic tradicional; como eu vi por aí, é menos uma história sobre uma pessoa do que sobre todo um movimento. É forte como precisava ser, e extremamente importante. A consequência da marcha em Selma foi uma grande vitória do Civil Rights Movement, mas se a gente olhar para eventos que ocorreram só no ano passado nos EUA, é fácil lembrar que ainda estamos bem, bem longe daquele sonho que MLK tinha. Whiplash, de Damien Chazelle: Sabe, eu meio que já cansei dessas histórias sobre Homens Horríveis. J.K. Simmons vai levar seu (merecido) Oscar por interpretar esse ser humano horrendo, professor de música num conservatório conceituadíssimo, que recorre a humilhação e violência psicológica e física para que seus pupilos deem o máximo de si, aparentemente, e para encontrar um grande artista no meio de muita gente apenas boa. Confesso que no começo eu senti uma certa peninha (e até empatia, creiam) do personagem do Miles Teller, mas ele é tão metido a besta que parei de me importar. Às vezes um personagem senta à mesa com a família e diz que prefere morrer bêbado aos 34 anos e ter gente falando sobre ele depois do que não ser lembrado por ninguém, diz pra namorada que ela é só um obstáculo pro sonho dele, e você sabe que você e aquele filme não poderiam ser mais incompatíveis. Só que eu gostei (!). Odiei a mensagem, gostei do filme. É muito bem feito, intenso, emocionalmente esgotante, e as atuações são ótimas. Mandava os dois personagens direto pra lata de lixo, e é isso.
Whiplash, de Damien Chazelle: Sabe, eu meio que já cansei dessas histórias sobre Homens Horríveis. J.K. Simmons vai levar seu (merecido) Oscar por interpretar esse ser humano horrendo, professor de música num conservatório conceituadíssimo, que recorre a humilhação e violência psicológica e física para que seus pupilos deem o máximo de si, aparentemente, e para encontrar um grande artista no meio de muita gente apenas boa. Confesso que no começo eu senti uma certa peninha (e até empatia, creiam) do personagem do Miles Teller, mas ele é tão metido a besta que parei de me importar. Às vezes um personagem senta à mesa com a família e diz que prefere morrer bêbado aos 34 anos e ter gente falando sobre ele depois do que não ser lembrado por ninguém, diz pra namorada que ela é só um obstáculo pro sonho dele, e você sabe que você e aquele filme não poderiam ser mais incompatíveis. Só que eu gostei (!). Odiei a mensagem, gostei do filme. É muito bem feito, intenso, emocionalmente esgotante, e as atuações são ótimas. Mandava os dois personagens direto pra lata de lixo, e é isso. Boyhood, de Richard Linklater: Queria muito ter assistido, curto demais a trilogia famosa do Linklater e não acho que o fato de o filme ter sido filmado ao longo de doze anos seja coisa da qual é fácil de se fazer pouco caso.
Boyhood, de Richard Linklater: Queria muito ter assistido, curto demais a trilogia famosa do Linklater e não acho que o fato de o filme ter sido filmado ao longo de doze anos seja coisa da qual é fácil de se fazer pouco caso.